
Distanciamento social em Londres, no Parque Jubilee Gardens, perto do London Eye.
Os investigadores esforçam-se por compreender o coronavírus, mas o ritmo é incerto. É assim que a ciência funciona. Por inquietante que seja, é a única maneira de derrotar esta pandemia.
Ensaio: Robin Marantz Henig
Fotografias: Giles Price
Se existe um tema em comum nos livros e artigos que escrevi ao longo dos últimos 40 anos, é o fascínio por aquilo que os cientistas têm aprendido sobre o corpo humano. Uma longa carreira dedicada a explicar a investigação biomédica justificou um profundo respeito pelo processo científico. Apesar dos ocasionais erros e autocorrecções, estou convencida de que, em última análise, este processo conduz-nos a uma melhor compreensão do mundo e da maneira de nele prosperarmos.
Por isso, quando a comunidade científica começou a tentar perceber o coronavírus, eu estava disposta a seguir os seus conselhos sobre a forma de me manter em segurança, baseados na hipótese de o vírus ser transmitido sobretudo por gotículas resultantes de tosse e de espirros que permaneciam sobre as superfícies. Limpava cuidadosamente as bancadas, esforçava-me por não tocar na cara e lavava as mãos.
Cerca de duas semanas e meia depois de a minha cidade, Nova Iorque, encerrar, os cientistas começaram a transmitir uma mensagem diferente: todos deveriam usar máscara. Foi uma reviravolta espectacular. O conselho inicial sugerira a dispensa da máscara, excepto para aqueles que trabalhassem na linha da frente dos cuidados de saúde. Esta revisão baseou-se, em grande medida, numa nova hipótese: o coronavírus propagava-se sobretudo através do ar.
Qual delas estava certa, então? Transmissão através de superfícies ou aerossóis? Deveríamos ter mais medo de sermos contaminados pelos botões do elevador ou pelas pessoas que respiram perto de nós?
A mudança no conselho dado sobre as máscaras assustou-me. Não por força do novo conselho em si – estava mais que disposta a usar máscara, se os peritos me diziam que devia fazê-lo – mas devido à sinistra metamensagem que pressentia estar-lhe subjacente: os cientistas estavam a tentar perceber a crise em cima do joelho. De repente, as opiniões mais credíveis, emitidas pelos peritos mais inteligentes do mundo, começaram a parecer pouco mais do que palpites, por bem-intencionados que fossem.
Vale a pena fazer uma pausa e reflectir sobre o efeito de longo prazo de vermos os cientistas a tactearem hipóteses, procurando uma forma de compreender melhor o coronavírus e de combater a doença por ele causada, a COVID-19 – em público e a uma velocidade alucinante. Até para uma fã da ciência como eu, tem sido inquietante observá-los a discutir, discordar, rodopiar sobre si mesmos e reavaliar. Já dei por mim a desejar que algum herói vestido com uma bata de laboratório varresse a doença e a fizesse desaparecer. Em 1955, quando Jonas Salk introduziu a sua vacina contra a poliomielite e venceu uma doença terrível, eu ainda era bebé. Desde então, a minha mãe mencionou sempre o seu nome com reverência.
O vírus da poliomielite podia tornar as crianças paralíticas e causou pânico todos os verões, levando ao encerramento de acampamentos e de piscinas.
Enquanto a comunidade científica procura denodadamente libertar-nos de uma epidemia aterradora, aparentemente intratável, poderá haver outro final feliz que nos proporcione não apenas a sobrevivência, mas também a sabedoria. Se retirarmos alguma lição importante desta triste experiência, espero que possamos confiar no processo científico como apoio para a superação de uma crise existencial.
Não vale a pena enganarmo-nos: o desafio é enorme e inédito. O coronavírus conhecido como SARS-CoV-2 alia uma enorme capacidade de contágio a uma natureza letal, numa mistura feroz a que Anthony Fauci, director do Instituto Nacional para as Doenças Alérgicas e Infecciosas dos EUA, chamou o seu “pior pesadelo”. Em primeiro lugar, ninguém na Terra possuía imunidade quando ele apareceu. Em segundo lugar, é transmissível pelo ar e infecta as vias respiratórias superiores, o que significa que é rapidamente expelido de volta para o ar e pode flutuar à deriva, passando de pessoa para pessoa. Em terceiro lugar – aquela que é, provavelmente, a sua pior característica –, o vírus é mais contagioso antes de provocar sintomas, o que significa que os portadores se sentem bem precisamente durante o período em que há mais probabilidades de nos infectarem.

*Alteração estatisticamente insignificante. Diana Marques Fonte: Cary Funk, Centro de Investigação Pew
Os truques utilizados por este vírus para frustrar o contra-ataque do organismo são diabolicamente eficazes. Uma vez no interior, por via nasal ou bucal, o coronavírus ultrapassa a primeira linha de defesa imunitária, infiltra-se facilmente nas células, gera cópias de si próprio e assegura-se de que essas cópias funcionam, utilizando um mecanismo de correcção que muitos outros vírus nem sequer possuem. Consegue transformar as células pulmonares de um ser humano em material inútil, semelhante a vidro triturado, rebentar os vasos sanguíneos ou destruí-los por meio de coágulos microscópicos, e avariar os mecanismos internos de um rim, do coração ou do fígado, tornando-os demasiado rígidos para serem reparados. Pode minar as células que atacam os vírus invasores e, em seguida, provocar uma reacção imunitária secundária que se descontrola gravemente, acabando paradoxalmente por causar a sua própria catástrofe. E qualquer pessoa que entre em contacto próximo com uma pessoa já infectada pode provavelmente ficar também infectada.
A reacção imunológica exacerbada, conhecida por “tempestade de citocinas”, também se observa no herpes, no Ébola, e noutros vírus, bem como no cancro e em doenças auto-imunes.
É o pior pesadelo de Fauci? Eu quase fiquei sem dormir.
No momento em que esta pandemia ameaça o mundo inteiro, o combate tem sido bastante público. O cidadão comum está a obter informações privilegiadas sobre teorias científicas habitualmente reservadas a conferências académicas e a revistas de baixa circulação. Grande parte do debate sobre estas ideias tem lugar na televisão, no Twitter, no Facebook e em convívios nos jardins de epidemiologistas de bancada. Às vezes, dou por mim a perguntar-me se alguém envolvido nesta discussão saberá, de facto, de que maneira a ciência funciona.

Repensando a nossa sociedade: a tecnologia aponta o caminho. Nunca houve igualdade no acesso de banda larga à Internet. A pandemia expôs esse fosso. No entanto, os progressos das redes de telecomunicações de alta velocidade 5G alimentarão um surto de crescimento, desde a telemedicina à banca, educação e transportes, proporcionando ligações mais rápidas e mais acesso. “Vai ser um maremoto de mudança”, afirma David Grain, antigo presidente de uma empresa de torres de comunicações então chamada Global Signal. As redes mais eficientes reduzirão os custos e ajudarão as pequenas empresas arrasadas pela pandemia a alcançarem novos clientes e a crescerem. — Daniel Stone
Milhares de investigadoresa reorientaram os seus laboratórios, mesmo que muito distantes da virologia ou das doenças infecciosas, para atacarem colectivamente esta hidra de sete cabeças. Nunca se viu nada assim, com os cientistas envolvidos em colaborações internacionais a todo o vapor até quando alguns dos seus líderes políticos disparam uns sobre os outros.
Assistir a este crescente esforço científico tem sido uma espada de dois gumes: senti-me encorajada por testemunhá-lo, mas foi tão difícil de acompanhar que também contribuiu para a minha ansiedade generalizada. Portanto, fiz aquilo que tenho feito ao longo de toda a minha vida adulta: contactei alguns cientistas para ouvir a opinião deles. Esta é uma fantástica vantagem de sermos jornalistas: podermos fazer perguntas estúpidas a gente inteligente. Normalmente, costuma ajudar-me a esclarecer o meu próprio raciocínio. Desta vez... nem por isso.
A ciência de vanguarda expõe sempre o pouco que é conhecido, mesmo por presumíveis peritos. Por isso, estes telefonemas esclareceram-me sobre o caminho que nos falta percorrer. Mesmo assim, foi interessante ouvir que muitos cientistas andavam à procura de respostas.
Nunca se vira nada assim: os cientistas participaram em colaborações Internacionais, a todo o vapor, apesar de os políticos continuarem a disparar uns sobre os outros.
“Tem sido extraordinário ver como as pessoas estão a usar os seus talentos e dons para resolver este problema”, disse-me Gregg Gonsalves, co-director da Parceria Global para a Justiça na Saúde, da Universidade de Yale. “Todas as pessoas querem dar o seu contributo”, ainda que sejam formadas em Direito, Geografia, Antropologia, Artes Plásticas ou outros domínios muito distantes.
Toda esse enfoque na investigação permitiu obter uma enorme quantidade de informação num período de tempo incrivelmente curto. Poucas semanas depois da primeira transmissão animal-para-humano de que há conhecimento, os cientistas já tinham sequenciado o genoma completo do vírus. No Verão, mais de 270 potenciais fármacos contra a COVID-19 estavam a ser objecto de ensaios clínicos activos nos Estados Unidos. Quanto à demanda do Santo Graal, uma vacina, uma legião de investigadores de dezenas de países já identificou mais de 165 candidatos no princípio de Agosto. Os progressos foram tão rápidos que até um hiper-realista como Fauci – partidário da tese de que é preciso explicar ao público a enorme importância de realizar ensaios clínicos de grande escala antes da introdução de novos fármacos – afirmou sentir-se “prudentemente optimista” para afirmar que poderia ser disponibilizada uma vacina no início do próximo ano. Se ele tiver razão, ficaria pronta três anos mais depressa do que o mais rápido dos desenvolvimentos de vacinas da história.
O recorde foi estabelecido em 1967, com a vacina da papeira. O cientista Maurice Hilleman utilizou o vírus que isolara a partir da sua filha.
Por vezes, contudo, a ciência não pode ser apressada. “Existe uma espécie de sorte imprevisível na iniciativa científica”, disse-me Gregg Gonsalves. “A rapidez e a escala do que está a acontecer actualmente poderão ser apenas um prelúdio das descobertas fortuitas que vamos ter de fazer num período de tempo mais longo.”
De seguida, telefonei a Howard Markel, director do Centro para a História de Medicina da Universidade de Michigan. Aparentemente, o coronavírus mudava de forma de uma maneira aterradora. Parecia que, todos os dias, eu abria o jornal e lia que mais um sistema de órgãos poderia ser afectado pelas suas acções devastadoras ou que um novo grupo etário também era vulnerável. Howard, porém, contou-me que isso era mais do que previsível: a explosão de sintomas novos e variados acontece sempre que qualquer vírus altamente contagioso entra repentinamente em cena.

Medição da temperatura na L’Ecole de Battersea, no Sul de Londres.
“Quanto mais material clínico e mais doentes temos, mais probabilidades existem de observar essa natureza polimorfa”, afirmou. Foi o que aconteceu nos primeiros tempos da Sida, na década de 1980. Na alvorada de qualquer nova doença, não param de surgir manifestações estranhas que surpreendem os médicos. Mesmo que as probabilidades de surgir um sintoma raro sejam, por exemplo, apenas de uma para mil, os médicos vão observá-lo com muita frequência porque um milhar de doentes pode acumular-se praticamente de um dia para o outro numa doença nova.
Por isso, as reviravoltas e as mudanças nas declarações públicas sobre a COVID-19 não são sinais de que os cientistas se encontram atordoados: são sinais de que os cientistas estão a gerar uma torrente de nova informação, tentando perceber a doença à medida que vão progredindo.
Em 1989, Stephen Morse organizou a primeira conferência dos EUA sobre vírus emergentes, na esperança de dar aos cientistas ferramentas de previsão da próxima epidemia viral.
Por último, telefonei a um velho amigo, Stephen Morse, professor de epidemiologia na Escola de Saúde Pública Mailman, da Universidade de Columbia. Stephen praticamente previu a catástrofe actual há três décadas. Hoje sente-se desconcertado com todo o frenesi. “Não é assim que eu gostaria de ver a ciência ser feita, tudo a acontecer tão depressa”, disse. Esforçou-se bastante por encontrar um aspecto positivo dessa rapidez. “Há muito conhecimento disponível”, arriscou dizer. Mas, e se parte desse suposto conhecimento vier a revelar-se errado?, perguntou. “A ciência é um processo autocorrectivo. Talvez o próprio esforço para corrigir os erros conduza a um conhecimento aperfeiçoado.”
Havia dois grãos na engrenagem que continuavam a incomodar-me. Em primeiro lugar, a politização do processo pode travar o progresso. Mesmo que a ciência alcance um conhecimento mais rigoroso da COVID-19, de como tratá-la e, um dia, até preveni-la, talvez a história não venha a ser contada dessa maneira. Existe um número suficiente de interesses e alianças para que a verdade seja desvirtuada sem grande esforço.
A estranha campanha lançada para minar Anthony Fauci afirmou que os seus primeiros conselhos eram demasiado optimistas, ignorando o aviso constante: “Isto pode mudar.”
Em segundo lugar, a própria ciência poderá sair prejudicada. Se os investigadores seguirem por atalhos, de modo a obterem resultados mais rápidos, ou derem saltos muito maiores do que os permitidos pelos dados disponíveis, com vista a darem conselhos, poderão involuntariamente macular o próprio processo do qual dependem. Com efeito, não muito depois da minha conversa com Stephen Morse, li um relatório elaborado por uma equipa de peritos em epidemiologia e bioestatística da Faculdade de Saúde Pública Bloomberg, da Universidade Johns Hopkins, onde se sugeria que muita da investigação inicial era demasiado superficial para ter grande utilidade.
Os especialistas analisaram os primeiros 201 ensaios clínicos da COVID-19, realizados na China, EUA e outros países. Aparentemente, tinham sido saltadas muitas etapas. Num terço dos ensaios, não havia definição clara do sucesso do tratamento. Quase metade eram tão pequenos (100 doentes ou menos) que não eram efectivamente informativos e, em dois terços, não fora cumprida a regra de ouro do “estudo cego”, que impede os investigadores de saberem quais dos participantes vão receber o tratamento em estudo.

Repensando a nossa sociedade: funcionar à distância. A Internet permitiu que milhões de pessoas trabalhassem remotamente, mas expôs-nos ao risco de ciberataques. Segundo Jesper Andersen, director-geral da firma de cibersegurança Infoblox, “é mais complicado garantir a segurança de um negócio inteiramente operado à distância”, para não falar num consultório de telemedicina ou numa rede de automóveis com piloto automático. As VPN (redes virtuais privadas) actuais não funcionarão com eficiência se milhões de pessoas trabalharem a partir de casa. Os servidores descentralizados aumentarão a velocidade. Formas mais elaboradas de início de sessão reforçarão a segurança na Internet. —Daniel Stone
Mesmo assim, estes ensaios clínicos foram divulgados, em parte porque revistas científicas de referência, como o “New England Journal of Medicine” e as publicações da editora PLOS, se comprometeram a acelerar o processo de avaliação por pares, empurrando para o prelo os artigos sobre coronavírus em metade do tempo habitualmente requerido. Outro canal de publicação envolve os servidores de pré-impressão, que publicam artigos na Internet antes de estes serem avaliados por pares. Estes servidores, criados para promover a transparência na investigação científica, são mais antigos do que a pandemia, mas a sua popularidade explodiu assim que os estudos sobre o coronavírus começaram a pulular. Os jornalistas e os seus leitores esfomeados por actualizações escreveram artigos sobre estudos divulgados nestes servidores de pré-impressão por mais pequenos ou preliminares que fossem.
A avaliação por pares ajuda, mas não é uma garantia: das primeiras 25 retractações de artigos sobre o coronavírus, 14 saíram publicadas em revistas com avaliação por pares.
Quando são publicitados novos resultados, ainda que fracos ou condicionais, que contradizem resultados anteriores, aqueles de nós que tentamos acompanhar o processo podemos sentir-nos frustrados e confusos. Mas aquilo que verdadeiramente me preocupa é que as pessoas com uma visão céptica da ciência possam encontrar, nestas aparentes oscilações de informação e conselhos de saúde pública, razões para rejeitarem liminarmente conselhos cientificamente fundamentados.
O sentimento anticiência está por todo o lado, nos EUA e noutros países, e é pernicioso. Já gerou dúvidas sobre consensos especializados em matérias como as alterações climáticas, o controlo das armas, a segurança da vacinação e outras questões polémicas. Estamos também a assistir à emergência dos defensores de teorias da conspiração sobre a COVID, que insistem que a pandemia é uma conspiração ou um embuste. Lançam acusações venenosas sobre os responsáveis pela saúde pública, alguns dos quais se demitiram após demasiadas ameaças de morte. Tem sido espantoso ver vídeos de pessoas que berram com proprietários de lojas ou vereadores municipais por lhes exigirem que usem máscara. Isto não é apenas um fenómeno norte-americano. Com a falsa informação, a desinformação e as teorias da conspiração sobre o coronavírus a circularem pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde veio declarar que estamos a enfrentar dois surtos de saúde pública em simultâneo: a pandemia propriamente dita e uma “infodemia” de ideias perigosamente enviesadas a seu respeito.

Injecção de uma vacina experimental refrigerada da COVID-19 na Universidade de Oxford.
Na verdade, não é preciso ser um acérrimo defensor de teorias da conspiração sobre a COVID para recusar quaisquer lições que esta pandemia nos possa ensinar: basta ser um ser humano comum, de vistas curtas e falível. “Todas as epidemias que estudei acabam sempre com amnésia global”, disse Howard Markel. “Voltamos à nossa vidinha alegre.” Os “problemas gritantes” que contribuíram para o surto (crescimento urbano, destruição de habitat, viagens internacionais, alterações climáticas, refugiados de guerra) limitam-se a persistir à medida que as pessoas vão perdendo interesse pelo tema e que mais tempo, mais dinheiro e mais recursos são dedicados à ciência. “Os políticos passam ao espectáculo seguinte, enquanto os responsáveis pelas políticas públicas clamam no deserto.”
O século XXI já foi classificado como aquilo a que Howard Markel chama o século das epidemias: SARS em 2003, gripe H1N1 (gripe suína) em 2009, MERS em 2012, Ébola entre 2014 e 2016, e, agora, a COVID-19 em 2019, 2020 e ninguém sabe por quantos mais anos. Cinco epidemias em 20 anos, cada uma ligeiramente pior do que a anterior e a actual várias vezes mais grave do que as outras quatro juntas.
Talvez, de uma maneira estranha, ver os cientistas tentarem construir um avião ao mesmo tempo que o fazem voar seja uma faceta positiva para compreender o processo científico. Talvez a pandemia consiga convencer os próprios cépticos de quão importante a descoberta científica é para o florescimento da humanidade. É essa a esperança de Lin Andrews, directora de apoio aos professores no Centro Nacional para a Educação Científica. “Em geral, as pessoas confiam inatamente nos cientistas, mas, quando se trata de um tema polarizado, a situação pode mudar”, afirmou esta antiga professora de Biologia do ensino secundário. Talvez esta nossa observação sem filtros acabe por revelar-se positiva. Afinal, a melhor maneira de reforçar a confiança na ciência é mostrando toda a experimentação e afinação de hipóteses – enlouquecedora, quando esperamos ansiosamente por respostas para uma epidemia global, mas, se virmos bem, o único caminho para alcançarmos os resultados que nos permitirão prosseguir a vida.
Segundo os inquéritos, a opinião pública está menos desalentada por ver os cientistas em acção do que eu temia. Desde 2015 que o Centro de Investigação Pew acompanha aquilo que os norte-americanos pensam sobre a ciência e essa opinião tem-se tornado solidamente mais positiva, incluindo num inquérito realizado em Abril e Maio de 2020, quando o coronavírus disparava e muitos dos inquiridos se encontravam sujeitos a confinamento.
Em Janeiro de 2019, no último inquérito conduzido antes da pandemia, os inquiridos mostravam-se inclinados a confiar nos cientistas: 86% reconheciam que tinham “muita” ou “bastante” confiança de que os cientistas levavam a sério o interesse público. Esse nível de confiança subiu ligeiramente para 87% durante a pandemia.
No entanto, quando telefonei a Cary Funk, directora de estudos científicos e sociais no Pew, para conversar sobre estes resultados encorajadores, ela disse-me para não me deixar levar pelo entusiasmo, afirmando que a história é um pouco mais complexa. Os inquéritos revelam uma profunda clivagem partidária quanto à confiança depositada nos cientistas. Os membros do Partido Republicano e os independentes seus simpatizantes mostram relutância em aceitar a ciência sem hesitações. Há menos de metade das probabilidades, comparando com os Democratas, de exprimirem “muita” confiança nos cientistas, proporção que se tem mantido teimosamente baixa: 27%.
Pouco depois do aumento súbito dos casos de coronavírus nos EUA em Julho, o Centro Pew apurou que apenas 46% dos republicanos consideravam a COVID-19 uma ameaça “importante” à saúde pública, comparados com 85% entre os democratas.
Os inquéritos do Pew também reflectem uma profunda divisão racial no comportamento face à ciência. Segundo um inquérito conduzido no início deste ano, os adultos negros têm menos probabilidades do que a população em geral de confiar na ciência médica. Também têm menos probabilidade de confiarem nos novos tratamentos ou vacinas contra a COVID-19: somente 54% dos inquiridos negros se deixariam inocular, “certamente” ou “provavelmente”, contra a COVID-19, comparados com 74% de brancos e hispânicos. Esta desconfiança, exacerbada pelos maus cuidados de saúde dispensados a muitos doentes negros nos consultórios médicos e nas urgências hospitalares, é especialmente inquietante no contexto da COVID-19, que mata mais do dobro de negros do que de brancos.
As clivagens raciais e políticas quanto à forma como a ciência é vista são especialmente insidiosas no momento presente, em que os cépticos podem minar quaisquer progressos feitos pelos cientistas no combate ao coronavírus. No cenário pessimista, se um número suficientemente elevado de cépticos ignorar as medidas de controlo e as vacinas, isso pode privar completamente a ciência da sua capacidade para nos proteger.
Gostaria de acreditar que Lin Andrews tem razão quando diz que este é um momento bom para ensinar, talvez não tanto aqueles de nós que já têm pontos de vista enraizados, mas aqueles cuja infância está a ser formatada pelo coronavírus. Estas crianças (a quem alguns já chamam a Geração C) poderão crescer com menos paciência para a polarização que obscurece as respostas de hoje. Vamos imaginar que eles passam os seus anos de formação a observar o processo científico de perto. E vamos imaginar que, no final, os cientistas nos conseguem mesmo salvar.
Estamos agora no ano de 2040 e a Geração C é toda adulta. De repente, surge uma nova pandemia. Baseados naquilo que aprenderam durante a COVID-19, numa idade impressionável, estes jovens adultos reconhecem a urgência do novo surto, ignorando rapidamente quaisquer afirmações de que se trata de um embuste. Põem a máscara, respeitam o distanciamento social e vacinam-se assim que uma vacina é desenvolvida (e é desenvolvida rapidamente, porque os cientistas também aprenderam algo entretanto). Seguem as recomendações dos peritos porque sabem ser a melhor maneira de se protegerem, não só a si próprios, mas também aos seus vizinhos, de uma epidemia semelhante àquela que acompanhou o seu crescimento e matou centenas de milhares de pessoas.
A Geração C supera a nova pandemia com um número relativamente baixo de mortos, ou perturbações económicas, por ter aprendido algumas lições fundamentais na infância: os conselhos de saúde pública baseiam-se na melhor informação disponível, esses conselhos podem ser mudados quando novas informações surgem, a ciência é um processo iterativo no qual não há vias rápidas.
Talvez nessa altura também já existam mais trabalhadores nas profissões que nos acompanharam durante a catástrofe do coronavírus: mais médicos, enfermeiros e paramédicos; mais especialistas em doenças infecciosas, epidemiologia, virologia e microbiologia, todos eles tendo escolhido uma carreira que viram a funcionar no seu melhor quando eram miúdos. Isto já aconteceu antes. Alguns dos cientistas actualmente empenhados no combate ao coronavírus, como Gregg Gonsalves e Howard Markel, acabaram por fazer aquilo que fazem depois de terem ajudado a resolver a Sida, um mistério viral anterior que nos matou de maneiras nunca dantes vistas.
Portanto, a pergunta a fazer é a seguinte: irá a Geração C reagir de outra maneira, sem ser com “amnésia global”, quando a próxima epidemia surgir, como quase certamente surgirá? É isto que eu ambiciono, não só para recuperar a minha própria confiança, entretanto beliscada, mas também pelas minhas duas adoradas netas, que teriam de viver a realidade que mais me assusta.
Muito depende do que acontecer nos próximos meses. Imaginem, a título meramente argumentativo, que as curvas epidemiológicas que me têm obcecado ao longo deste ano acabam por jogar a nosso favor e que conseguimos regressar a uma situação relativamente parecida com a normalidade. Imaginem que são descobertos tratamentos que tornam a COVID-19 uma doença de curto prazo e curável para quase todos. Imaginem que uma vacina é desenvolvida em breve e que uma parte importante da população mundial é inoculada. Se tudo isso acontecer, por que razão não havemos nós de emergir de tudo isto valorizando mais as iniciativas científicas em todo o seu esplendor confuso?
Tento agarrar-me a essa esperança, apesar dos discursos desrespeitosos e insultuosos dos políticos e dos zelotas defensores da “escolha pessoal”, que põem em causa tudo o que os cientistas fazem. Tento convencer-me de que, por vezes, os anjos da humanidade acabam por prevalecer. E que temos o equivalente a um exército de anjos (cientistas, educadores, médicos, enfermeiros, trabalhadores de saúde) que tem trabalhado incansavelmente para garantir um final feliz desde que a imagem fantasmagórica do coronavírus, com os seus picos eriçados, começou a assombrar os nossos sonhos colectivos.
É nesse final que tento acreditar. Um final no qual emergimos de tudo isto com uma apreciação renovada da ciência como a melhor oportunidade da humanidade para se salvar do sofrimento e da morte extemporânea.
Como foram obtidas estas imagens: O fotógrafo captou as novas rotinas com uma câmara de imagens térmicas, para mostrar de que maneira a temperatura corporal se tornou um indicador da possibilidade de infecção. As temperaturas são convertidas num gradiente cromático, que vai desde os azuis frios aos cor-de-laranja quentes.











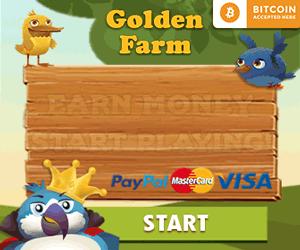






0 Comentários